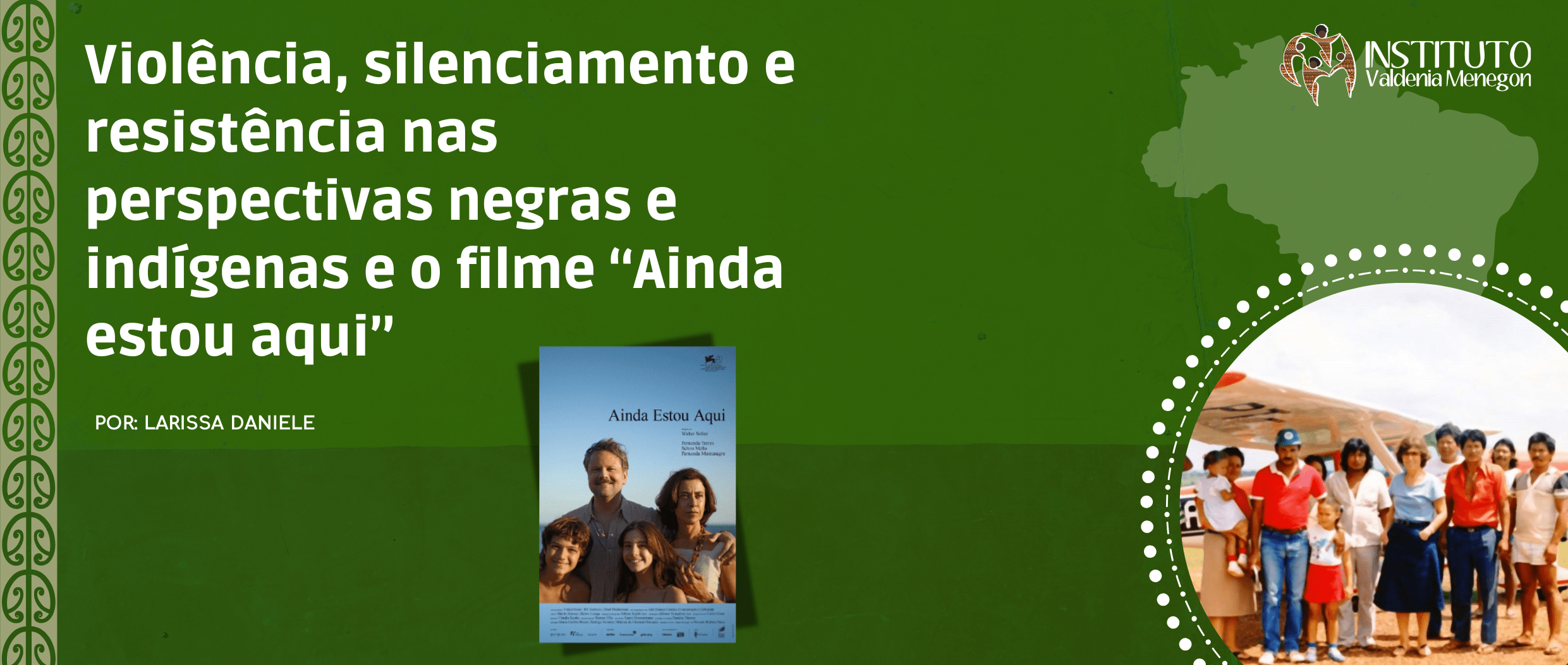
ENVIADO POR / FONTE
Larissa Daniele Carvalho Figueredo
23/01/2025
Ainda Estou Aqui: repressão e resistência na ditadura militar sob diferentes realidades
O presente texto traz pontos indispensáveis para se pensar a Ditadura Militar Brasileira: violência, silenciamento e resistência nas perspectivas negra e indígena a partir da obra “Ainda estou aqui” do diretor Walter Salles, lançada em 2024. O filme foi inspirado no livro Ainda Estou Aqui de Marcelo Rubens Paiva, que documenta a trajetória de luta e resistência de sua mãe, Eunice Paiva. Ela sofreu inúmeras violências, entre elas, o sequestro, a morte e ocultação do corpo do marido, o ex-deputado Rubens Paiva. Tornou-se uma referência na busca por justiça às vítimas da ditadura militar no Brasil
O filme tem como ponto de partida o cotidiano da família de Rubens e Eunice, que levavam uma vida tranquila ao lado de seus filhos. No entanto, essa rotina familiar é abruptamente interrompida pela violência da ditadura militar. A obra retrata a dor de uma família forçada ao silêncio. Fechar as cortinas, evitar sair de casa, conviver com o telefone grampeado e reprimir suas angústias passam a ser parte do dia-a-dia de Eunice e de seus filhos após a prisão, tortura e assassinato de Rubens pelos ditadores.
Eunice transforma toda a sua dor em uma luta por justiça. Em uma época em que a voz era silenciada e a dor reprimida, ela, agora advogada, revela a importância de responsabilizar a ditadura por seus crimes. Após 25 anos, Rubens Paiva foi oficialmente declarado morto por decreto, graças à Lei dos Desaparecidos Políticos, décadas depois de ter sido brutalmente assassinado pelo regime militar.
Com a comunidade indígena, a violência não era diferente. A política de extermínio indígena durante a ditadura militar no Brasil manteve-se violenta e marcada pelo silenciamento dos povos originários. Essa opressão manifestou-se de diversas formas, sendo a “Prisão Krenak” um exemplo emblemático. Conhecida como “Reformatório”, essa instituição foi palco de intensas violações de direitos, onde a comunidade indígena sofreu violências extremas.
A Guarda Rural Indígena (GRIN) foi mais uma organização que sofreu violência durante a ditadura. Esse grupo era formado por indígenas de diversas etnias que recebiam treinamento militar. O documentário “GRIN – Guarda Rural Indígena”, de Roney Freitas e Isael Maxakali, retrata as dores de um povo que ainda sofre as consequências da violência daquela época. Povos arrancados de suas terras e obrigados a viver sob o comando de militares.
[…]Os índios da Grin foram treinados no Batalhão Escola da Polícia Militar de
Belo Horizonte. Os primeiros 57 alunos, índios kraô, xerente e maxacali,
chegaram ao local em novembro de 1969. Recebiam da Polícia Militar “noções
de instrução militar, instrução policial e instrução especializada, relacionada com
ordem-unida, educação moral e cívica, equitação, ataque e defesa, armamento e
tiro”, dentre outros tópicos. Em suma, o índio era treinado a se tornar um
“soldado branco”, como disse uma reportagem da época. (VALENTE, 2017).
A política de omissão e repressão incluía a apropriação de terras indígenas, tortura, estupro, tráfico de crianças e até caçadas humanas com o uso de metralhadoras. Apesar dessa brutalidade, ainda há quem acredite que os povos indígenas foram poupados pela repressão militar, quando, na realidade, foram algumas das principais vítimas desse período.
Como destacou o ambientalista e filósofo Ailton Krenak (2024): “É impossível contar a história do movimento indígena na ditadura sem falar de Eunice Paiva.” Um aspecto pouco explorado no filme é a atuação da advogada Eunice Paiva em defesa da causa indígena. Ao lado de movimentos e lideranças indígenas, ela lutou pela demarcação de terras, indenizações e outras formas de proteção a esses povos historicamente vulnerabilizados desde a colonização portuguesa.
“Nós vamos sorrir.”
É por meio da resistência que Eunice se torna uma das vozes mais firmes contra a repressão. Seu legado mantém viva a memória das dores enfrentadas durante a ditadura, garantindo que essas histórias não sejam esquecidas e que a justiça, ainda não alcançada, não passe despercebida. O filme nos convida a refletir sobre aqueles que, no passado e ainda hoje, não têm voz para expressar suas dores e pedir por justiça.
“Outros povos além dos brancos também sofreram com a repressão militar. Negar isso ao nosso povo é reviver a ditadura em sua forma mais crua, pois meu povo ainda a sente em sua pele”, fala dita por Douglas Krenak (2016). Com a repercussão do filme, surge outra reflexão: onde estavam os outros? O filme retrata o cotidiano de uma família branca de classe média que sofreu durante esse período, mas e a população negra e indígena?
A pesquisadora Marize Conceição (1985) destaca em sua tese que “A ideologia da democracia racial durante a ditadura serviu como um mecanismo de controle das tensões raciais, já que os militares se empenharam em apresentar o Brasil ao mundo como um país organizado sob bases democráticas”. Esta análise permite refletir sobre a falsa ideia de democracia racial vigente na época, marcada pelo silenciamento sistemático de lideranças negras.
Assim como Eunice, uma liderança de grande importância na resistência contra a ditadura, é essencial lembrar das diversas figuras negras e indígenas que lutaram pela causa. A repressão militar contra a população negra tinha como principal objetivo silenciá-la. Em um país onde havia uma luta intensa pela erradicação do racismo, especialmente liderada pela população negra, a ditadura tentou mascarar sua opressão com um falso discurso de igualdade racial.
Nomes como Abdias do Nascimento, Joel Rufino, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, entre outros, representaram a resistência diante da opressão. Foram silenciados na época, mas a luta permaneceu viva. As comunidades preta e indígena vivem em constante luto e resistência até hoje. O Estado mantém uma política de extermínio que se intensificou durante a ditadura: o extermínio da cultura. Povos indígenas foram proibidos de falar suas línguas e expulsos de suas terras. Mulheres pretas e indígenas eram estupradas e os índices de violência contra esses grupos só aumentaram,a população negra foi perseguida por expressar sua cultura, queriam silenciar a música,a dança, a religião,em um período que a Black Music Brasileira foi alvo de perseguição,mas também fonte de resistência contra a opressão do sistema.
O bloco Ilê Aiyê, que surgiu na Bahia no ano de 1974, é um grande símbolo de luta contra a ditadura, o mesmo mostrou uma resistência da música levando a mesma para as ruas sem medo, ele levou também a riqueza da cultura africana, expressa na dança, na religião e em suas tradições. O bloco teve como berço o terreiro de candomblé Jeje-Nagô, sob a liderança da renomada ialorixá mãe Hilda Jitolu.
É inegável que todos foram vítimas desse período sombrio, mas é ainda mais evidente que alguns grupos seguem sofrendo sob uma política silenciosa de extermínio. A ditadura foi vencida pela resistência coletiva, mas os resquícios da violência instaurada, desde a invasão dessas terras, persistem. A luta e a resistência continuam incansáveis e necessárias, e como destaca Lélia Gonzalez “Ir à luta é garantir nossos espaços que evidentemente nunca nos foram concedidos”.
Texto produzido e enviado por: Larissa Daniele Carvalho Figueredo
Referências bibliográficas
JESUS, Marize Conceição de. O olhar do Serviço Nacional de Informações – SNI sobre o movimento negro no Brasil (1964-1985). Tese (Doutorado, ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
KRENAK, Ailton. Ailton Krenak: ‘É impossível contar a história do movimento indígena na ditadura sem falar de Eunice’. [Entrevista concedida a] Amanda Mazzei. CBN, São Paulo, novembro, 2024.
PAIVA, Marcelo Rubens. Ainda Estou Aqui. 1. ed. – Rio de Janeiro: Alfaguara, 2015.
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas, a história de sangue e resistência indígenas na ditadura. 1. ed – São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
Referências Audiovisuais
AINDA Estou Aqui. Direção: Walter Salles. Produção: Maria Carlota Fernandes Bruno, Walter Salles e Rodrigo Teixeira. Brasil: Distribuidora: Sony Pictures, 2024.
GRIN – Guarda Rural Indígena. Direção de Produção: Vinícius Casimiro. Direção: Roney Freitas. Co-direção: Isael Maxakali e Sueli Maxakali. 2016.
REFORMATÓRIO Krenak. Realização: Itaú Cultural e Ministério Público Federal – Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Local: Minas Gerais. 2016

